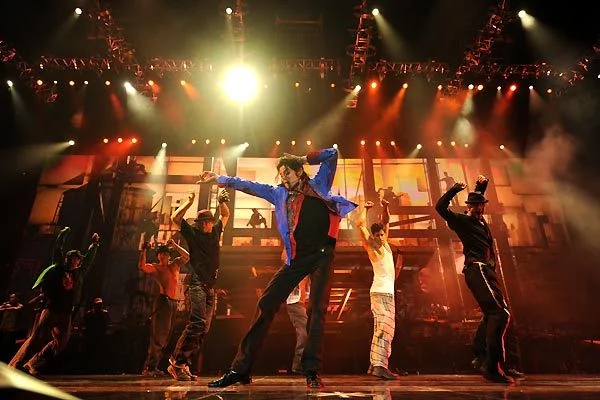Por Janaina Collar e João Beccon (*)
Na clássica obra de Oscar Wilde, “O retrato de Dorian Gray”, temos marcado como passagem principal a cena em que o protagonista que dá nome a obra se depara com seu retrato recém pintado e reclama do quanto esta imagem guardará para sempre a sua juventude e a zombará para sempre. Ele ainda comenta e pede para que o oposto ocorresse, que o quadro envelhecesse e não ele. É uma cena importante e diz muito sobre a nossa formação como sociedade moderna, em especial a partir da segunda metade do século XIX. A ascensão de estados nacionalistas no primeiro quarto do século XX é produto de crise econômica de estados monárquicos, como afirma Hobsbawn, e também fruto da própria revolução linguística vivida neste século, onde a dominação e discursos uniformizantes não são mais sustentados exclusivamente pelo poder da forçar física, mas de um projeto econômico. É de fundamental relevância provocar reflexões e ações em prol do entendimento de que a nossa realidade é produto de um projeto econômico, no qual periodicamente ‘brotam aparatos paliativos’, que não interrompem ou cessam a precarização e a política econômica de morte. Traz para dentro da agenda político, social, cultural (…) a saúde mental, não é um favor ou um olhar humanista, mas um sólido resultado, não só no âmbito individual, mas coletivo, o que o torna imperioso.
Os estados totalitários desenvolvem discursos paternalistas, em que supostamente o Estado objetiva defender e cuidar do coletivo, mas, paradoxalmente, se projeta no discurso da definição desse coletivo. Políticas sociais e legislação são sustentadas sob esse aspecto, controlando o que seria o “dentro” e “fora” de quem pode reclamar por justiça. Não à toa que regulamentos são criados neste sentido, onde supostamente são garantidos direitos, mas embutidos controles e limites que favorecem esse cenário, onde o individual não pode ter espaço. Exemplo disso, é o próprio controle do Estado sobre a classe de trabalhadores e os movimentos sindicais, em que a legislações passam a prever o direito sindical, mas com requisitos, como o da territorialidade, para facilitar o controle do estatal.
Neste sentido, importante vermos o nascimento da Bioética e o seu desenvolvimento ao longo do século XX. É o olhar sobre questões que não mais podemos utilizar os mesmos discursos totalizantes ou universais. O primeiro comitê multidisciplinar de Bioética, por exemplo, e justamente para analisar a distribuição de recursos escassos em hospital nos EUA na década dos anos 1960 envolve o acesso ao tratamento de diálise, onde as novas tecnologias recentes não davam conta do número de pessoas que necessitavam do tratamento e que o comitê tinha o papel de definir quem poderia ou não ter acesso.
Numa sociedade marcada pelo pluralismo moral, cada vez mais vamos observar a ampliação da necessidade de um pensamento bioético, em que os modelos de análise moral, invariavelmente promovidos a partir de modelos filosóficos de análise, não oferecem respostas suficientes, necessitando um olhar mais amplo e ao mesmo tempo individualizado para cada situação.
Não se trata de defender uma estética relativista, mas, sim, um pensamento mais próximo de uma transdisciplinaridade, que conflitua com um pensamento metodológico estilo cartesiano. Seria uma postura em que cada camada de uma determinada realidade devesse ser analisada em conjunto e não separadamente, o que frequentemente é utilizado como discurso dominante em forma de demonstrar o domínio sobre determinada situação ou política pública. Ao invés de analisarmos a razão de termos grupos vulneráveis em nossa sociedade e como isso implica em nosso cotidiano e como somos formamos também a partir desses diferentes perfis, caímos muitas vezes em classificações e dados representativos de determinadas situações que acabam sendo utilizadas para reproduzir um cenário dicotômico e que, portanto, não nos coloca em reflexão, mas em submissão. Na própria bioética, por exemplo, nos idos dos anos dois mil, vamos observar isso, como, por exemplo, na proposta da Bioética de Intervenção, que se marca por uma preocupação (importante) da bioética se ocupar da análise discursiva da formação de políticas públicas e dos serviços em saúde, mas que cai na reprodução dicotômica entre os dominados e dominadores, explicitamente entre norte e sul, como se o mundo fosse dividido a partir de dois lados opostos: ricos e pobres. Uma reprodução discursiva que remonta uma lógica colonialista, que sim ainda nos influência, mas que não pode ser reduzida a isso. Entendemos que nasce a partir de um contexto latinoamericano e pensado para esta região, mas isso significa também entender e reduzir o território sulamericano somente a partir de um de seus aspectos históricos.
Ao longo das últimas décadas, mudança política, do capitalismo do século XX, onde o Estado com seguridade social, saúde pública universal, educação pública universal, políticas de moradia, para Gestão do Estado neoliberal, onde o Estado opera entregando o mínimo. Onde as instituições e aparatos de seguridade social estão ou já foram sucateadas/exterminadas, o que produzem uma luta de todos contra todos, limitando a vida das pessoas a tentar sobreviver. Ou seja, esta mudança cultural que patrocina o discurso libertário que você, eu, nós podemos ser o que quisermos. É perverso e praticamente impossível. A depressão habita um território onde nem todo mundo vai poder ser quem quiser, mas o que conseguir ter com as ferramentas que alcançar adquirir através de uma lógica/dinâmica de desempenho. A corrosão do ideal do amanhã melhor, protagonizada pela espoliação diária do poder de compra das pessoas, de expectativa da vida familiar serem/terem melhores condições das gerações futuras, de terem acesso a melhores condições financeira/culturais/educacionais/sociais/saúde é substituída e entregue a corrosão das políticas de sociais de emprego/renda/saúde/educação à capacidade das pessoas terem de planejar a sua vida. O termo depressão vem da economia, hoje atualizado para recessão, mas no campo da saúde mental captura essa linguagem para descrever um fenômeno psicossocial num contexto em que as pessoas tentam planejar suas vidas, mas, se esses relatos não tiverem efetividade social, não terão capacidade de realização.
E, enquanto isso, muitos atores importantes navegam em cortinas de fumaça e que miram nas discussões pífias e que só fortalece o discurso e atos de exploração. Diversos relatórios da OMS, ilustrados em diversos estudos, relatórios e análises variadas, apontam que a depressão e/ou sofrimento mental é global. Partindo deste resultado com marcadores científico, precisamos ancorar que, mesmo que o sofrimento seja algo privado, do sujeito e sua trajetória, mas se você/eu, ou seja, uma grande parte do nós como coletivo, está sofrendo (em algum ou em vários níveis), algo em comum acomete a todos nós de forma coletiva.
O sofrimento mental tem relação com o campo social/linguagem/cultura/economia/política (…) onde estamos inseridos. Estes múltiplos campos determinam como a gente sofre, pois as pessoas precisam falar o que elas sentem e, na medida que você precisa falar algo, você está intermediado por questões morais, éticas (…) que vão definir o seu relato de sofrimento. No cardápio de possibilidade, há a dimensão subjetiva do sofrimento, uma dimensão química/orgânica do sofrimento, biológica, mas também existe a dimensão social e essa dimensão somente podemos enfrentá-la enquanto sociedade, ou seja, ir além das políticas que individualizam e silenciam esse aspecto do sofrimento.
Esse cenário nos remete as ferramentas utilizadas por estados totalitários, pois ao silenciarem esse sofrimento, impedem ou pelo menos interferem na capacidade de organização social e política. A luta por injustiças sociais promoveu a transformação e a transposição de regimes políticos no passado, pois, de certa forma, eram ambientes em que a sensação de injustiça provocava um sofrimento coletivo e de um inimigo identificado e geralmente na pessoa do líder político ou grupo opressor governante. O que temos hoje é que esse inimigo não se identifica de forma clara, pois as injustiças da mesma forma estão, muito embora ainda maciçamente dirigidas aos mesmos grupos vulneráveis, parecem dispersas em seus sofrimentos na sua forma coletiva, pois não compreendemos ou procuramos compreender o outro como parte de mim. O Dorian Gray não sofre somente porque ele quer se sentir jovem eternamente, mas o quanto ele deixará de existir na imagem perante outros, pois seu sofrimento está ligado a identidade e expectativa que ele se coloca, mas muito somado a expectativa que ele acredita que outros tem sobre ele. Nada mais atual sobre o qual precisamos refletir.
(*) Janaina Collar é psicanalista e mestre em Saúde Coletiva; João Beccon é advogado e coordenador acadêmico do campus Santana do Livramento/Unipampa.
§§§
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.