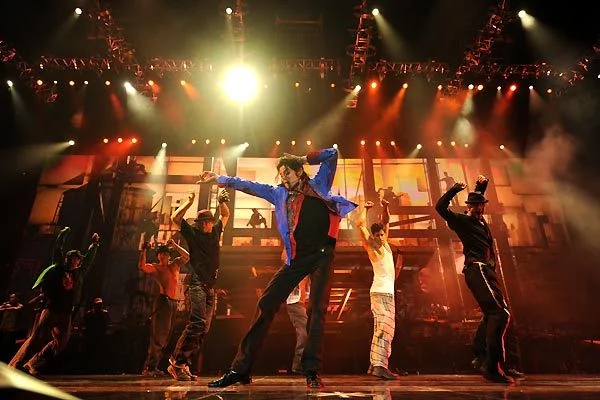Alfredo Gil (*)
“Restauraremos a esperança daqueles que a perderam, acolhendo-os numa grande cruzada nacional to make America great again.” Estas palavras se tornaram conhecidas em 1980 quando Ronald Reagan tornou-se o 40° presidente dos Estados Unidos.
O contexto histórico da época era pesado: segunda crise petrolífera, alto índice de desemprego e de inflação, além da guerra fria que estava por um fio. O medo e a falta de segurança, quase inexistentes após anos de prosperidade do pós-guerra, tomaram conta da população. Compreende-se que o convite ao povo para a dita cruzada nacional, a fim de reencontrar sua grandeza, fosse tentador.
A sequência conhecemos. Assessorado pelos economistas Milton Friedman, fundador da Escola de Chicago, prêmio Nobel, e Alan Greenspan, durante seus dois mandatos, Reagan terá como bússola a máxima do liberalismo econômico segundo a qual “o governo não é a solução de nossos problemas, ele é o problema.” Doravante, o Estado é percebido como um obstáculo para a fluidez do mercado: este deve se livrar da intervenção daquele. Criticado pelo assistencialismo, com suas regulações inúteis e política fiscal elevada, o Estado passa a ser visto como um entrave ao crescimento econômico. O casal Reagan e sua homóloga inglesa, Margaret Thatcher, acabaram com os corpos intermediários em seus países, como as forças sindicais, e pariram o modelo que hoje chamamos neoliberal.
Como conceber uma cruzada nacional que promove uma política do cada um por si e de auto-regulação do mercado sem os entraves do Estado para todos ?
Ora, devemos acrescentar que no bojo desta convocação que evoca uma perda e ambiciona restaurá-la, há a lembrança de que o país já foi uma grande nação, deixou de ser, mas que a restauração do que perdeu é possível.
Mas porque razão ele perdeu sua grandeza ? Se é que um dia ela existiu na medida da lamentação reclamada…
A perda em questão, seja ela de identidade, de segurança, de conforto ou do paraíso, se ela não é contabilizada como consequência de fatores históricos complexos, contingentes à vida, que incluem escolhas equivocadas ou enganosas, sejam elas políticas ou individuais, é considerada em geral como uma privação apontando um elemento externo como causa. Neste caso, a promessa de restauração do que se perdeu, a que o again alude, dificilmente escapa a uma empreitada com tonalidade nostálgica, na qual reside um perigo.
Assistimos recentemente com Donald Trump a reutilização, para sua campanha eleitoral, do mesmo slogan que anuncia o retorno de uma grande América. Devemos, no entanto, apontar uma evolução substancial, 45 anos depois da era Reagan, no seu projeto de restauração da suposta grandeza perdida. Certo, o combate contra o intervencionsmo estatal, que foi o fio condutor da política de Reagan, atingirá, provavelmente, seu paroxismo com Trump. Por prova, a criação de um departamento nomeado de eficiência governamental ( DOGE – departement of government efficiency) que será encabeçado pelo homem mais rico do mundo, Elon Musk. Sua missão, conforme apresentada por Trump, consiste em “desmantelar a burocracia, cortar as regulamentações excessivas, as despesas inúteis e reestruturar as agências federais”. Musk se regozija de modo obsceno de sua tarefa considerando que elas serão “extremamente trágicas mas extremamente divertidas”.
Deste ponto de vista, a continuidade entre Trump et Reagan não deixa dúvidas; aquele mantém-se na esteira deste. Porém, Trump vai bem mais longe e rompe não somente com Reagan, mas com a tradição dos USA, com suas origens, a partir do momento em que o motor ideológico predominante do argumento eleitoral do Trump designa o estrangeiro, o imigrante, como causa maior do declínio americano.
Por outro lado, a designação dos imigrantes como sendo aqueles que privaram os americanos da sua grandeza se inscreve numa forma de protecionismo que não é exclusividade americana. Seu formato é específico a sua História. Mas o sentimento xenofóbico como sabemos é onipresente atualmente na Europa. Restabelecer as fronteiras, erguer muros, proteger-se contra os imigrantes, tem sido o leitmotiv de programas políticos cuja a tonalidade discursiva principal é nostálgica como havíamos dito acima.
O psicanalista Contardo Calligaris, em uma conferência pronunciada há muitos anos em Bordeaux, afirmou que “o fundo nostálgico de nosso discurso é uma parte inerente a nossa posição cultural” insinuando, assim, que “o exercício clínico pode apresentar-se como uma empreitada nostálgica na medida em que esta prática é certamente tomada pela ideia de dar aos sujeitos a exata dimensão de suas heranças, e, na medida do possível, a dimensão menos imaginária dessas heranças”.
Nestes termos, a nostalgia pode ser concebida como uma forma de relação privilegiada com o passado, uma visita às lembranças que o constituem, das quais advêm um leque de emoções, entre as quais a dor. Manter uma relação cuidadosa com o passado ajuda a garantir alguma serenidade aos limites do futuro sem projeto de restauração idealizado.
Os agentes da restauração ignoram o que devem aos imigrantes, não somente economicamente, mas pessoalmente, por se servirem deles como zona de externalização de suas próprias misérias humanas, pestiferando-os. A ignorância garante a manutenção desta operação, que isola o exilado habitante de seus lares subjetivos, silenciando as dores contingentes do passado impedidas de expressão.
Se devemos recusar o espírito nostálgico em sua forma devastadora, que busca restabelecer uma ordem social que talvez nunca tenha existido, considero importante cultivar com carinho a nostalgia enquanto experiência consubstancial às nossas existências. Crescemos atravessando uma sucessão de perdas e separações, choramos e gritamos essas dores. Assim, o esforço de reintegrar um lugar ou retornar num tempo que precede a perda é um mito potente com consequências reais em nossas vidas e, por isso, merece, – contrariamente às diferentes versões do great again que vem brotando mundo afora – vias de expressões esteticamente mais elegantes e belas.
Se eu tivesse que ilustrar um momento de graça estética da nostalgia, remeteria o leitor à passagem do filme O Pianista de Roman Polanski, onde o pianista judeu polonês Wladyslaw Szpilman, morrendo e se escondendo como um inseto, é capturado pelo oficial alemão amante da música, Wilm Hosenfeld. Este encontro inesperado, entre aqueles que se opõem totalmente neste momento da História, encontrará o seu elo mantenedor do resto de humanidade no sublime da nostalgia através da música de um exilado franco-polonês que foi Frédéric Chopin. Não seria excessivo afirmar que Chopin se inspirou no sentimento nostálgico para a composição da grande maioria de suas obras. Para quem esqueceu, aqui está o link .
(*) Alfredo Gil é psicanalista em Paris; membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA) e da Association Lacanienne Internationale (ALI). E-mail: alfredo.gil@wanadoo.fr
§§§
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21