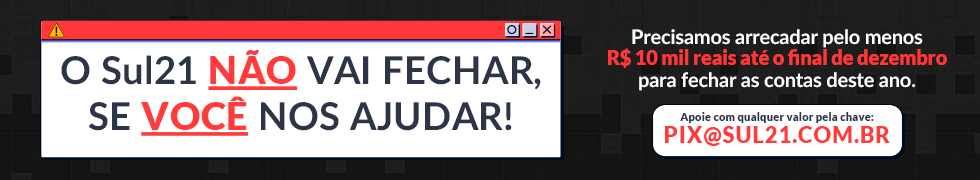Tau Golin*
O fenômeno histórico que aflora nesta campanha eleitoral de 2010 não está representado pelos programas conjunturais de governo dos candidatos. Não se insere naquilo que os candidatos poderão realizar dentro das possibilidades políticas, econômicas e institucionais do Estado-nação. O que, enfim, se revelou como discurso político, com consequências históricas e sociais é o enraizamento de modos de vida militantes das religiosidades. Parecia que o Brasil havia passado para um patamar civilizatório superior, no fortalecimento de uma cultura pública de opção pelas relações laicas, de relativa tolerância entre os credos, como convicção particular dos indivíduos. Ou seja, o direito a religião como garantia da laicidade. Nesse paradigma, a noção “do público” já começava a se fortalecer como “sujeito político”, cheio de conteúdo estruturante da nação, e não como “lugar vazio”, ocupado e dominado pela maioria ou pela força política/religiosa e/ou dominante mais poderosa.
O estágio de uma democracia é demonstrável pela autonomia das esferas públicas como expressão de diplomação constitucional e real da prática social. O público não é o dominável pela maioria, nem pela minoria. O público, numa metáfora concretizante, é a materialidade do pertencimento e do espírito de uma nação. Assim, o público só o é como ente do entre-lugar, da zona de fronteira, entre o particular e o estatal. O público existe em si como algo constitucional, conceptivo e real, garantido pelo Estado e pela sociedade civil, mas não submetido aos seus interesses particulares. Portanto, o público está relacionado com a laicidade do Estado-nação. Ele, em essência, precisa ter a dimensão de um direito na dimensão dos princípios.
Por óbvio, a laicidade é o problema real mas que não se visualiza como a bandeira aparente no segundo turno da campanha para presidente do Brasil. Já não fora no primeiro. Todavia, a laicidade e suas implicações sociais é o principal tema eleitoral, pois coloca a questão do Estado (realmente laico) como centro de discussão. Em sua imanência é como se o seu espectro transitasse na decisão de cada voto; como se, na essência, o conteúdo de cada voto tivesse o paradigma da laicidade.
Entretanto, por uma proposição inversa, trazendo à ribalta o dogma religioso.
Desde há muito, a minha bandeira principal é a sociedade laica, pois do seu eixo poderia decorrer um novo processo civilizatório, com respeito a diferença e a retomada de certo espírito de destino dos brasileiros. No cotidiano, seria visível por uma espécie de movimento neoiluminista humanista, sem os arroubos da intolerância anticlerical. Algo que transitasse pela premência do público e das metodologias abertas, imaginariamente fraternas. Algo em que o adversário não fosse convertido em inimigo eliminável e que as ações tivessem a humanidade como epicentro; uma metodologia de relacionamento em que os atos humanos não se agregassem como pretensa extensão dos deuses e seus ácidos míticos.
Mas os fatos constituem a história. As utopias apenas podem incidir no cotidiano para tentar influir nos próximos eventos, estruturantes do devir. E nesse processo, o neoiluminismo aparece derrotado ou submergido nas campanhas políticas, as quais resultam do pragmatismo aritmético do voto. O que a campanha faz é tentar sintonizar o candidato com a cultura do maior número de eleitores para obter a vitória, muitas vezes convertendo-o na caricatura que ele mesmo assume. No corolário dessa metodologia, as campanhas estão dizendo que a religiosidade se sobrepõe à nação brasileira. Tudo a ela está adstrito. E, numa disputa tão acirrada, aqueles que controlarem os seus “núcleos duros” poderão determinar o resultado.
Não se trata de oportunismo eleitoral. A religião nunca foi uma esfera abstrata no sentido de dedicar-se exclusivamente a transcendência entre “mundos”. Ela é poderosa por ser exatamente abstrata e especular com a transcendência, adequando o destino dos humanos a uma vontade superior fora deles. Todo crente é um militante totalizado em sua fé, cuja doutrina é o seu programa real, cumprida diuturnamente em seu dogma existencial. Toda liturgia é um comício. Toda oração ou pregação é um discurso político. Desse modo, as religiões almejam, sempre, o poder. O crente, por viver a tensão da totalidade, não pode reservar ao ato religioso a dimensão de apenas um exercício espiritual, de foro íntimo. Por ser dogmaticamente existencial se materializa em sua imanência.
Toda religião media o convencimento para a transcendência na “concretude” das práticas políticas e sociais. Uma correspondência entre o dogma e o exemplo. Portanto, seus devotos converteram-se em candidatos, assumiram espaços do legislativo, executivo e judiciário, enquanto seus eleitores fazem do voto um instrumento dogmático, autorizado pela crença. Para eles, o ato político é um mandato religioso; uma catequese; e o outro só será reconhecido se assumir a performance de sua projeção crente. A existência é uma totalidade doutrinal. É uma cruzada contra a laicidade. Não podem considerar, de fato, o “público” como centralidade da organização social. Um laico sabe tudo isso. E aceita legitimamente o religioso como ser de direito na sociedade humana. A recíproca nem sempre é verdadeira!
Nessa conjunta, o cálculo da campanha de José Serra é evidente. Ele considerou o religioso como totalidade dogmática militante, na correspondência entre a doutrina e o voto. A presidenciável Dilma foi demonizada em relação ao dogma, sua história real foi convertida aos textos bíblicos, cujos comportamentos e posições políticas são “exemplos” de que ela faz parte de um longo processo de martírios sofridos pelos devotos, os quais, em histeria, são levados a acreditar que novo ciclo de perseguições ao povo de Deus se avizinha.
A politização do “ódio religioso” foi a grande derrota brasileira nesta eleição. É a grande fratura na sociedade, pois, para lembrar autor contemporâneo, “a religião envenena tudo”. José Serra, em um oportunismo político de consequência negativa incalculável para o país, reconheceu a força do obscurantismo e o agregou à política, dando-lhe positividade formativa à nacionalidade. Dessa forma, desencadeou a euforia medievalista. Para o discurso dar certo, ele próprio assumiu um ritmo messiânico, fazendo brilhar em seus olhos esbugalhados aquele verniz opaco comum ao êxtase e à demência. Converteu-se em pregador, reservando grande parte de sua campanha às cerimônias nos templos, às romarias, basílicas e aos programas das igrejas eletrônicas, um novo Jesus Cristo do rádio e da televisão.
O efeito político da cruzada obscurantista de José Serra foi evidente. Muitos teólogos e pastores vieram a público denunciar a sua falcatrua religiosa. Mas a teologia e a racionalidade não tem qualquer efeito na massa fanatizada. A campanha de Dilma assimilou o golpe ao capitular diante da formalização de um compromisso com grupos religiosos.
Na campanha de José Serra, o próprio eleitorado de Marina Silva está considerado de forma caricatural, como se fosse constituído por uma horda de evangélicos fanáticos e ignorantes. Aliás, uma análise do discurso eleitoral de Serra, para canalizar a seu favor o voto “religioso”, demonstra, na verdade, que o ser capaz de crença é concebido sempre caricaturalmente, como um idiota, como alguém do Medievo ou da Antiguidade, como parte de um rebanho incapaz de compreender o mundo em que vive, sem vontade e dependente do pastoreio, como se fizesse parte de um grande rebanho assustado diante da figura da Dilma, como os dementes (assim como os cachorros) apavorados pelos estrondos dos trovões no cosmos indecifrável do criacionismo.
Para o trabalho sujo reservou ainda um papelzinho bíblico à sua esposa. Investida de apostola, ela acusou Dilma de “matar criancinhas”. Esta recorrência procura capitalizar cristãos e protestantes. Seu espectro subjacente tenta estimular o subconsciente para uni-los pelo tema comum dos assassinatos das crianças na perseguição ao Menino Jesus pelos romanos e da morte dos primogênitos hebreus pelos egípcios. Tudo calculado para um cenário de horrores e mentiras. Mas que pode funcionar, pois o mundo “real” do religioso da massa tem a Bíblia como equivalência. No geral, eles são incapazes de inquietação teológica ou filosófica.
Marina Silva entrou na campanha com os paradigmas da ética e da moral como práxis de sua proposta de sociedade sustentável. Agora, historicamente, a conjuntura lhe atropela. É um dever moral, ético e político dizer, ao menos algumas palavras, sobre a imoralidade do uso do “ódio religioso” nesta campanha, onde ela é considerada subjetivamente como uma de suas representantes, pois tal discurso é dirigido também ao seu eleitorado. Os seus correligionários do Movimento Marina Silva, do qual fiz parte, com forte contingente de democratas humanistas laicos, não merecem mais uma derrota pelo seu silêncio.
Nessa campanha, os exemplos odiosos são realmente diversos. Em um dos relatos recentes de minha preocupação com a história indígena, chegou-me a informação, por uma professora kaingang, que a sua comunidade “odiava” o PT. Tal aversão, no entanto, não fora motivada por nenhuma questão histórica ou política, pois, é forçoso concordar, que “nenhum outro governo” como o de Lula concedeu mais e reconheceu tanto os direitos dos povos autóctones. A história, na comunidade referida, sucumbiu ao “ódio” do pastor evangélico. Doze séculos de modo de vida indígena não significaram nada diante de sua pregação, e, com o fantasma endiabrado do PT, transformou-se em inimigo um parceiro real.
É exatamente neste caldo de cultura do senso comum que o PSDB e seus aliados vão buscar votos. A concepção de José Serra sobre o religioso em geral, sem dúvida, é a maior denúncia de seu oportunismo político, e que os seus marqueteiros, a partir dele, criaram uma das maiores falcatruas eleitorais.
O sociólogo José de Souza Martins, em artigo recente, está absolutamente certo sobre a polaridade entre “o Brasil místico e o Brasil racional, o Brasil tradicional e o Brasil moderno.” No entanto, ele inverteu o papel dos atores, considerando que Lula pertence ao místico-tradicional e Serra ao racional-moderno. Os fatos estão demonstrando exatamente o contrário. E mais, caso o “ódio religioso” fosse apenas elevado a argumento político por um cérebro “racional-moderno” teríamos somente uma prova de “oportunismo” do mau-caratismo político. Mas o fenômeno é mais complexo: o “ódio religioso” foi elevado, nesta campanha, ao patamar reconhecidamente “legítimo” e aceitável como parte estruturante da sociedade brasileira.
Independente do resultado eleitoral, o dano está feito: o “ódio religioso” materializou-se como força política a partir da campanha eleitoral de 2010. Uma derrota temível para o futuro do Brasil pela laicidade, entendida bem mais além do que uma doutrina que preconiza a não submissão do Estado aos dogmas religiosos, mas como centralidade do “público” na sociedade.
*Tau Golin é jornalista e historiador.