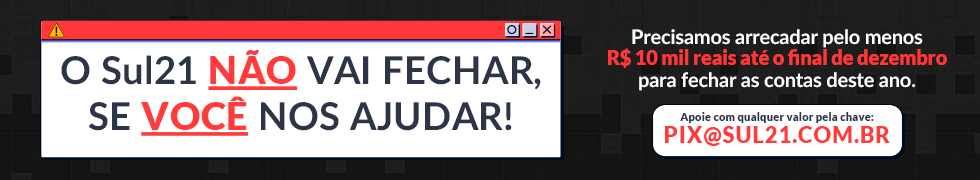Marco Weissheimer
No enfrentamento que teve com o Tribunal do Santo Ofício (Inquisição), no início do século XVII, por questionar a posição da Terra como suposto centro do universo, Galileu Galilei descobriu que uma das dificuldades para se pensar determinados temas é estar preso a um paradigma dogmático contra o qual é preciso se insurgir. Essa descoberta assumiu a forma de um dilema: ou se reinventa uma posição (no caso em questão, quem gira em torno de quem) ou se permanece preso a esse paradigma dogmático. O problema vivido por Galileu teria algo a nos ensinar sobre a situação da segurança pública no Rio Grande do Sul e no Brasil, de modo geral?
Na primeira edição do Sul21 Debates, realizada nesta quarta-feira (4), a advogada Denise Dora, Ouvidora Geral da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, mencionou o dilema de Galileu para situar o estado atual desse debate. Ou rompemos com o paradigma dominante nesta área, defendeu Dora, ou permaneceremos presos a um modelo de segurança arcaico, socialmente seletivo, racista e machista. Na mesma direção, o juiz Sidinei Brzuska, da 2ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre, destacou a forte dimensão cultural do debate a ser enfrentado e do compromisso com a verdade que ele exige se quisermos, de fato, construir outro paradigma neste campo. Ao tratar de segurança pública, disse Brzuska, “nós trabalhamos pouco com a verdade, não tratamos com a verdade”.
Nas mais de duas horas de debate, no auditório do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, esse compromisso com a verdade foi exercitado pelos quatro debatedores: Sidinei Brzuska, Denise Dora, Marcos Rolim e Cládio Wohlfahrt, escrivão de polícia e dirigente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia do RS (Ugeirm), entidade promotora do evento em parceria com o Sul21. Mediado por Antônio Escosteguy Castro, membro do Conselho Editorial do Sul21, o debate identificou alguns dos principais problemas da área da segurança pública no Estado e no País e também caminhos para possíveis soluções para os mesmos.

A falta de uma base de dados confiável
O jornalista Marcos Rolim, doutor e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com especialização em Segurança Pública pela Universidade de Oxford, apontou uma deficiência básica que impede uma resposta confiável à pergunta: a violência está aumentando ou diminuindo no Brasil? “Não sabemos, porque não temos uma base de dados confiável. As nossas estatísticas de segurança pública são formadas a partir de Boletins de Ocorrência (BO’s), o que é uma prática pré-histórica, pois a maioria das vítimas não registra ocorrência. Isso é um fenômeno mundial. Em média há cerca de dez vezes mais crimes do que os BO’s apontam. Esses boletins medem, quando muito, a atitude das vítimas, não tendências de violência. Na esmagadora maioria dos países civilizados essas estatísticas são feitas a partir de pesquisas de vitimização”, assinalou Rolim.
As taxas de homicídios (que medem a relação deste tipo de crime para cada 100 mil habitantes), assinalou ainda o jornalista, são indicadores importantes para apontar tendências de violência. No Brasil, apontou Rolim, houve uma redução média de 1,5% ao ano dessa taxa no período entre 2004 e 2011. A partir de 2011, ela voltou a crescer.
Pesquisador na área da segurança pública, Rolim criticou a precariedade das políticas de segurança pública ao longo da história no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil de um modo geral. “Política de segurança pública não se resume ao trabalho feito pelas polícias, abrangendo também áreas como educação, saúde, esporte, lazer, sistema prisional e defensoria pública, entre outras. Nunca fizemos isso, em nenhum Estado e em nenhum governo. A nossa experiência geral nesta área é uma calamidade pública”. E esse quadro, acrescentou, pode ficar ainda pior se o Congresso Nacional aprovar o fim do Estatuto do Desarmamento. “Se isso passar, teremos uma letalidade muito maior, com o aumento da presença de armas de fogo nas ruas. Todos nós aqui já ouvimos falar de bala perdida, mas ninguém nunca ouviu falar de faca perdida”.
O jornalista criticou também o atual modelo das polícias no Brasil, que definiu como uma “jaboticaba”. “Esse modelo só existe aqui. Em cada estado, há duas polícias, que, na verdade, são duas metades de polícia, pois cada uma delas não executa o ciclo completo de policiamento. Todos os países do mundo têm ciclo completo de policiamento. No Brasil, só a Polícia Federal tem isso. No nosso modelo, há uma hostilidade sistêmica entre as polícias militar e civil. Além disso, cortamos essas duas metades transversalmente entre os de baixo e os de cima. Em praticamente todo mundo, as polícias têm uma carreira só. Todo chefe de polícia algum dia foi patrulheiro. Aqui não. A pessoa pode chegar a delegado ou chefe de polícia sem nunca ter passado pela rua. Não oferecemos carreira aos policiais”.

O dia-a-dia do trabalho dos policiais
Dirigente do Ugeirm e integrante da equipe de investigação da 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, Cládio Wohlfahrt disse que “as palavras de Rolim, embora assustadoras, são aveludadas perto da realidade que os policiais enfrentam no dia a dia”. O policial relatou um cenário de falta de recursos, problemas de gestão e sobrecarga de trabalho que define esse cotidiano: “Se temos uma delegacia com dez policiais, pelo menos a metade deles deveria estar trabalhando na investigação de crimes. A minha delegacia tem apenas 3 policiais trabalhando com investigação. A metade ou mais da equipe fica envolvida com trabalho cartorial. A polícia não trabalha mais preocupada em trazer uma melhor segurança pública. O objetivo é só tentar garantir uma maior sensação de segurança mesmo”.
No caso do Rio Grande do Sul, os problemas históricos do setor, assinalou o policial civil, foram brutalmente agravados pela decisão do governador José Ivo Sartori de cortar diárias, horas extras, gastos de custeio e investimentos no setor. “O decreto que cortou recursos da educação, da saúde e da segurança é criminoso, pois envolve a vida das pessoas. A ação desse governo fragilizou ainda mais a segurança pública”. Na mesma linha, Isaac Ortiz, presidente do Ugeirm, disse que “tudo o que ocorreu de avanço nos últimos anos está sendo desmontado pelo governo Sartori. E se o Projeto de Lei Complementar 206, que estamos chamando de PLC da morte, for aprovado na Assembleia, a segurança pública ficará ainda mais precarizada”, advertiu o dirigente da entidade.

A realidade do sistema prisional no RS
Há 18 anos trabalhando no sistema prisional do Rio Grande do Sul e atualmente responsável pelo Juizado do Presídio Central, o juiz Sidinei Brzuska fez um breve relato de uma experiência piloto que está em curso com resultados positivos até aqui: as audiências de custódia, que consiste na garantia da rápida apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante. A ideia é que o acusado seja apresentado e entrevistado pelo juiz, em uma audiência onde serão ouvidas também as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado do preso. Nessas audiências, o juiz analisa a prisão sob o aspecto da legalidade, da necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou da eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares.
“Em 100 dias deste projeto, foram apresentados 1500 presos em flagrante, só em Porto Alegre. Deste total, um pouco mais de 500 foram soltos imediatamente. Em sua maioria eram primários, sem antecedentes e eram acusados de crimes não violentos, Só eu já fiz umas 100 dessas audiências e estou achando o resultado muito interessante. O contato direto com essas pessoas permite ver coisas que não vemos só lendo o inquérito”, disse Brzuska.
Na avaliação do juiz, o principal problema envolvendo o sistema prisional do Estado é cultural. “O sistema prisional virou uma empresa, que dá lucro, para o crime. O Presídio Central é o maior exemplo disso. Para o crime, quanto pior for o sistema prisional e quanto menos o Estado investir na sua melhoria, melhor para os seus negócios. Quanto pior for o presídio, melhor é para o crime. O pessoal do crime pegou isso e aproveitou. Há cerca de 20 anos mudou o perfil do nosso sistema penitenciário. Antes, os presídios só recebiam coisas da rua. Passaram a mandar coisas para a rua também, especialmente dinheiro. O sistema não cai hoje porque virou uma empresa e dá lucro. Os presos estão loucos para ocupar o novo presídio de Canoas e passar a operar lá também. E a sociedade quer continuar empilhando gente nesse esquema. Em me sinto falando para as paredes”, assinalou Brzuska, que criticou ainda a ausência de continuidade de políticas entre diferentes governos. “Qual política de Estado que sobrevive a uma mudança de governo?” – questionou.
Quase metade dos presos que estão hoje no Central respondem por tráfico, a maioria deles jovens, com ensino fundamental incompleto. Na avaliação do juiz responsável pelo Presídio Central, a forma como Estado vem tratando o problema do tráfico é absolutamente ineficaz. “O tráfico é um crime complexo e só está sendo enfrentado pelo viés da Brigada Militar, responsável pela esmagadora maioria das prisões em flagrante. Nunca vi alguém da imprensa perguntando para o Secretário da Educação qual a política dele para combater o tráfico. A mesma pergunta deveria ser feita para secretários de outras áreas também. De fato, na vida real, a autoridade máxima da segurança pública hoje no Rio Grande do Sul é o senhor soldado da Brigada Militar. Se 93% das prisões foram realizadas pela Brigada, é ele que manda de fato. Prende, escreve a ocorrência, a Polícia Civil põe uma capa, envia para o Ministério Público, que faz a denúncia e manda para mim. O juiz recebe um prato feito, não tem escolha de cardápio, e esse prato é definido lá no início pelo soldado da Brigada. Nós não sabemos quem é esse soldado, não conversamos com ele. Nós não tratamos com a verdade e isso começa lá de baixo”.

A linguagem da violência e o dilema de Galileu
Fundadora da Ong Themis – Gênero e Justiça e atual Ouvidora Geral da Defensoria Publica do Rio Grande do Sul, Denise Dora abordou o fator cultural identificado por Brzuska, com foco no problema da violência contra a mulher. A história recente da luta contra esse tipo de violência é a história de um contínuo enfrentamento a paradigmas dogmáticos, tal como expresso no dilema de Galileu. Um dos primeiros paradigmas a serem rompidos, assinalou Dora, foi o próprio reconhecimento da existência da categoria “violência contra a mulher”. “A partir da década 70, o movimento feminista começou a dizer que existia uma violência invisível contra a mulher, uma violência que ocorria dentro de casa. Até a criação da Lei Maria da Penha, a violência doméstica era enquadrada como lesão corporal. E cerca de 70% dos casos de violência sexual acontecem no ambiente doméstico”.
A criação das delegacias especializadas em violência contra a mulher, a partir de 1984 e a criação da Lei Maria da Penha, em 2006, constituíram, acrescentou a advogada, uma espiral de conhecimento sobre como essa questão vinha sendo tratada pelo Estado. Com esse conhecimento, um novo conceito de violência contra a mulher foi sendo construído, culminando mais recentemente na tipificação do feminicídio. “Essa tipificação era necessária, pois esse tipo de crime tem características próprias. Uma mulher morre a cada uma hora e meia no Brasil. São 15 mortes por dia, em média. Frequentemente, esses crimes envolvem mutilação”.
Denise Dora citou um estudo realizado em 2013 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 17 países, com situações de violência contra a mulher. “Essa pesquisa mostrou que a violência é uma linguagem. Assim como as pessoas aprendem a escrever, aprendem a agir de determinadas formas. Se a violência é institucionalizada como linguagem no ambiente familiar, será assim em outros níveis também. A resposta a esse problema, portanto, não pode ser só policial, precisa ser também educacional e cultural”, destacou a ouvidora que elogiou a escolha dessa questão como tema da redação na última prova do ENEM, quando cerca de 6 milhões de jovens tiveram que pensar sobre isso.
O padrão de violência contra as mulheres segue muito alto, advertiu Dora, e essa situação pode piorar ainda mais com algumas medidas que vem sendo aprovadas no Congresso e reproduzidas em âmbito estadual e municipal, como a proibição do debate sobre gênero dentro das escolas. Os problemas a serem enfrentados não são pequenos, apontou. O número de delegacias especializadas ainda é muito pequeno e insuficiente. Segue existindo uma resistência muito grande em denunciar esse tipo de crime e as vítimas, em sua maioria, não querem registrar ocorrência. E a sociedade ainda enfrenta ameaças de retrocessos que podem jogar o país na Idade Média. Esse foi um dos consensos construídos no debate. Com propostas como a redução da maioridade penal, o fim do estatuto do desarmamento e a proibição de debates de gênero nas escolas, o Congresso Nacional, com sua atual composição, se transformou em uma espécie de tribunal da Inquisição a ser enfrentado para romper os paradigmas que alimentam a linguagem da violência e ódio que cresce perigosamente no Brasil.