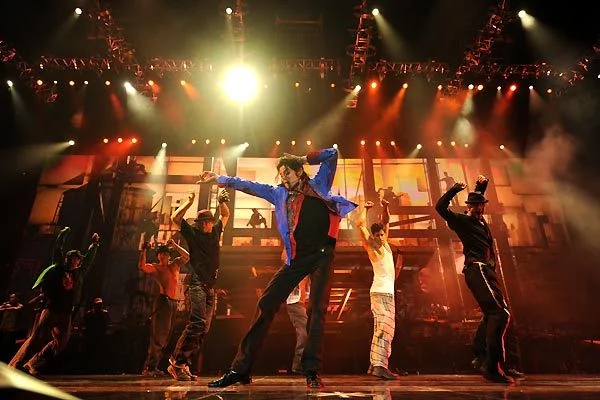Na última terça-feira, (29), a Emater/RS-ASCAR, junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural do RS, publicou o estudo “Diagnóstico das Comunidades Guarani no Rio Grande do Sul”, levantamento inédito no estado que mapeia o perfil e as carências das aldeias Guarani. A pesquisa mostrou um cenário de falta de recursos básicos e estruturas precárias.
O Rio Grande do Sul tem, ao todo, 62 comunidades Guarani espalhadas por 36 municípios. Barra do Ribeiro, que fica a 60 km de Porto Alegre, concentra o maior volume de aldeias em uma só municipalidade, com seis, abrigando 321 indígenas entre elas. Ao todo, são 1.077 famílias da etnia Guarani no estado e mais de 4 mil pessoas. A aldeia Nheengatu, em Viamão, é a maior, com 200 integrantes.

A questão das terras é central para as comunidades indígenas. 27% dos Guarani vivem em terras que eles escolheram e outros 21% em terras demarcadas pelo governo. O Rio Grande do Sul tem apenas sete territórios reconhecidos pela União como pertencentes aos indígenas. Porém, a insegurança é grande para as aldeias que vivem em áreas públicas que muitas vezes são patrimônio de administração indireta do estado, por exemplo, terrenos da CEEE ou da Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa). 13 comunidades, ou 21%, estão nessa situação.
Nesses locais, há a incerteza por conta da falta de regularização da situação das famílias ali assentadas. Uma única comunidade, localizada em Porto Alegre, no bairro Agronomia, vive em um abrigo temporário nas instalações de uma igreja. A aldeia, chamada Ka’aguy Marae’ỹ ou Mato Sem Males, representa apenas 2% do total de comunidades, mas comporta 42 pessoas. “Tudo é fruto do não reconhecimento territorial”, diz Mariana de Andrade Soares, antropóloga e coordenadora do Diagnóstico Guarani.
O estudo foi feito junto às lideranças indígenas entre agosto e dezembro de 2024. O desafio foi encontrar as aldeias, pois os Guarani são um povo caminhante, que circula na sua área de abrangência. Segundo Mariana, ela já sabe do surgimento de novas aldeias desde a finalização do mapeamento. “Não se investe recursos públicos onde não existe regularização. Aí começa a precariedade”, afirma Mariana.
De fato, a situação das famílias é de enorme dificuldade até mesmo nos recursos básicos. 37% das comunidades têm situação vulnerável quanto ao acesso à água para consumo. Mais de 90% relatam problemas de habitação, seja pela estrutura precária ou por falta de moradias suficientes. Ainda que 80% das aldeias tenham luz elétrica disponível, menos da metade consideram a qualidade como “boa”, que não cai e se mantém estável com vários aparelhos ligados ao mesmo tempo.

A situação dos serviços públicos oferecidos é a mesma: a precariedade persevera. Três a cada quatro escolas operando dentro de um território Guarani estão situadas em estruturas que não foram construídas para serem escolas. Quase metade de todas as escolas são consideradas “precárias”, segundo o levantamento. Contudo, 71% das comunidades possuem ensino escolar Guarani, que preserva não só a língua mas outros aspectos da cultura indígena.
A saúde também é um tema sensível. Pouco mais da metade das aldeias não possuem um espaço de atendimento, seja um local improvisado ou uma Unidade Básica de Atendimento oferecida pelo governo. Entre os problemas estão o pouco apoio de transporte para determinados casos, condições de trabalho precárias, falta de médicos, infraestrutura insuficiente e outros.
O Diagnóstico surgiu da necessidade apontada por lideranças Guarani de um documento que representasse, em números, a situação precária das pessoas. “Sem o ‘papel’, nem todos estão dispostos a ouvir”, afirma Mariana, “e quem ouve são os mesmos”. Porém, apesar das dificuldades, o mapeamento quer mostrar não só as vulnerabilidades, mas também as fortalezas do povo Guarani. O Diagnóstico mostra que 97% das aldeias têm atividades agropecuárias ativas, como cultivo de mandioca e milho e criação de aves, e que o artesanato tradicional é a principal fonte de renda.
Após a publicação do estudo, haverá uma mediação com gestores municipais para que os líderes comunitários possam levar as demandas de suas aldeias para a reunião. O objetivo é iniciar um diálogo direto para iniciar um processo de formulação de políticas públicas. “O que se revela é um retrato de um duro processo histórico-colonial de violação de direitos”, conclui Mariana.