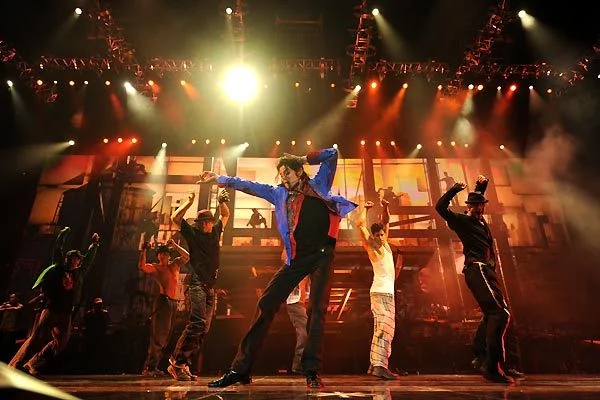Norton Cezar Dal Follo da Rosa Jr. (*)
Recentemente, em decorrência da sucessão, nos últimos meses, de casos de violência contra crianças em ambiente familiar no nosso Estado, fui entrevistado com o propósito de trazer algumas contribuições para o debate. Trata-se de um tema delicado que se torna ainda mais complexo quando estamos falando de crimes que tiveram um triste desfecho porque resultaram em homicídios.
Diante de tamanha perplexidade, é compreensível tentar levantar algumas hipóteses sobre o que levaria um pai ou uma mãe a tirar a vida do próprio filho. Mesmo porque, quando o horror nos toma de assalto, faz-se necessário a construção de algum sentido, sobretudo para aquilo que seria da ordem do absolutamente inaceitável. Nesse contexto, a repórter lança a primeira questão:
– “O que poderia explicar, no aspecto mental, uma mãe ou um pai decidir tirar a vida do próprio filho”?
Do ponto de vista psicanalítico, somente uma escuta singular de quem cometeu um ato de filicídio poderia nos levar a supor as reais determinações em cada situação. Ou seja, generalizações, além de não dialogar com a ética psicanalítica, empobrecem a discussão. Entretanto, nossa experiência clínica ajuda-nos a formular algumas hipóteses, mantendo-nos advertidos tanto no que diz respeito à extrema complexidade do debate, quanto às inúmeras possibilidades de leituras desse ato sobre o qual o nosso saber será sempre insuficiente.
Um primeiro ponto a observar é o fato de nem sempre se tratar de uma decisão. Essa palavra carrega uma significação de racionalidade, de tomada de posição autônoma, o que, muitas vezes, não seria o caso nessas situações. O ato de matar o próprio filho pode envolver motivações inconscientes, desencadeadas por um estado de loucura episódica, momentos de despersonalização, assim como estar associado a quadros psicopatológicos severos: Psicoses, psicopatias, depressões, entre outros. Nesse cenário, existem situações que vão desde os delírios de perseguição, onde o filho pode encarnar uma ameaça e, assim, “precisaria” ser destruído, até ideais de purificação em que ele, estando sob os cuidados da divindade, estaria protegido dos próprios pais ou de agentes externos. Mas, certamente, não se resume a isso. Casos de depressão pós-parto e uso abusivo de substâncias psicoativas, somados ao histórico de violência do agressor, também devem ser considerados.
Portanto, cabe reconhecer tanto os momentos de crise em que parece impossível a distinção entre o real e o imaginário, quanto o fato de que o outro pode ser tomado como “objeto”, destituído de sua condição de sujeito, tornando-se uma coisa a ser destruída. Além desses fatores, pode-se dizer que pais, vítimas de maus tratos e abusos psicológicos graves, não elaborados, podem projetar nos filhos o desejo de destruição de si mesmo, deparando-se, assim, com uma espécie de confusão especular onde se tentaria destruir no outro aquilo que habita em si. Vale lembrar, mas isso de forma alguma seria algo determinante. Mesmo porque a discussão é ampla e não se esgota. Apenas para situar outro fator a ser considerado, quando o superego dos pais é de extrema rigidez, eles podem supor que o filho não mereça viver fora do seu código de conduta. Um exemplo disso se encontra no clássico da literatura brasileira: Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar.
Outra pergunta frequente nesse debate é a interrogação: “Se esses casos ocorrem após uma série de violências ou se um pai ou mãe “normal” pode matar o filho de forma inesperada”. Embora seja raro, há registros de casos de pais, sem histórico de maus tratos e de distúrbios psíquicos que, tomados por um estado de extrema violência, atentaram contra a vida do próprio filho. No entanto, isso não é o que ocorre com maior incidência. Geralmente, existe um histórico recorrente de negligências de diferentes naturezas, de maus tratos, seguido de abusos físicos e psicológicos.
Nem todos os pais conseguem exercer simbolicamente as funções paternas e maternas. Apesar de serem pais biológicos, isso não significa que consigam sustentar o lugar de funções que requerem, entre outras coisas, amar, cuidar, educar e situar limites. Em muitos casos, isso não se dá por mera obrigação moral ou imposição da lei, pois é preciso que os pais tenham um mínimo de desejo de se responsabilizar por essa função. Quando isso não se inscreve, o acompanhamento psicológico, a intervenção do juizado da infância/adolescência e a atenção da rede de saúde pública podem trazer contribuições relevantes para que não tenhamos desfechos trágicos dessa natureza.
Outra questão recorrente é a incredulidade frente à figura da mãe como alguém que poderia vir a matar o próprio filho. Diante disso, surge a questão: – “Por que isso acaba chocando ainda mais?” Penso que há uma fantasia que nos constitui de que o amor de mãe é incondicional. De certo modo, nosso narcisismo precisa acreditar que somos amados por nossas mães acima de qualquer coisa. No entanto, se de um lado não precisa ser psicanalista para saber que isso não é bem verdade; de outro lado, no fundo gostaríamos que fosse. Depois de gerar por nove meses, amamentar, cuidar, como poderia alguém exercer tamanha barbárie? Infelizmente, apesar de ser relativamente raro, é possível sim. Desde a mitologia Grega, a possibilidade de uma mãe matar o próprio filho já estava prevista. Medeia, por exemplo, mata seus dois filhos como forma de punir a traição de Jasão, seu cônjuge. Assim, ela encarnava tanto a deusa protetora quanto aquela capaz de destruir a própria família.
Quando uma mãe decide legislar sobre os direitos da vida de um filho, nunca se sabe como isso pode acabar. Penso que choca tanto porque fere um princípio básico da ordem civilizatória.
Tendo em vista o impacto social e a importância de evitar o crescimento de desfechos trágicos como esses, outras questões se somam as anteriores, tais como: – “Pode-se falar num adoecimento das famílias, da sociedade? Quais fatores contribuem para esse processo?”. Como se pode evitar esse adoecimento? e ainda: – “A rede de saúde está falhando?”.
As formas de adoecimentos psíquicos dizem respeito ao nosso contexto contemporâneo. As famílias fazem parte dos valores, dos ideais, assim como das perversidades do tecido social e dos laços de sociabilidade estabelecidos. Sendo assim, elas são uma construção social, política, econômica e cultural. Entre outros fatores, contribuem para esse processo o abandono do Estado das garantias mínimas de proteção, de direitos, de saúde e de dignidade social. Somando-se a isso, o sujeito sofre os efeitos da voracidade de um sistema capitalista que busca reduzir todos a meros consumidores, excluindo, assim, milhares de pessoas das condições de troca e de reconhecimento. Nesse aspecto, os valores que ordenam simbolicamente uma dada cultura podem produzir efeitos psíquicos devastadores.
Quanto ao fato de como evitar esse adoecimento, não teremos a pretensão de achar que isso seria possível, mesmo porque, de certo modo, é inerente a condição humana. Entretanto, faz-se necessário pensar em estratégias de prevenção. Sempre que tenho oportunidade de mencionar, procuro lembrar: Nunca subestime o potencial destrutivo de um comportamento abusivo, sobretudo quando ele ocorre de forma sistemática e repetitiva. Muitas vezes, as pessoas testemunham atos de violência e evitam se envolver. Nesses casos, acionar os órgãos de justiça e indicar ajuda terapêutica, tanto para a vítima quanto para o agressor, pode ajudar.
Em relação aos profissionais da rede de saúde pública, sabemos o quanto eles fazem um trabalho incrível que merece todo o nosso respeito e admiração. O que está falhando é a carência de recursos financeiros, o que decorre da falta de vontade dos governos de investir em políticas públicas para prevenção de violência, especialmente, para dar suporte às famílias em situações de vulnerabilidade social, econômica e emocional.
(*) Psicanalista, membro da APPOA e do Instituto APPOA, doutor em Psicologia Social e Institucional – UFRGS, autor dos livros: Magnólias 57 (Appris, 2024); Lacan com Hamlet e alguns outros (Escuta, 2022); Ensaio sobre as pedofilias (Escuta, 2021); Perversões: o desejo do analista em questão (Appris, 2019).
***
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21