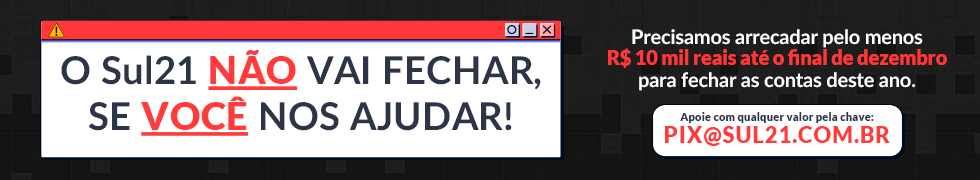Luciano Mattuela (*)
Até bater palmas no “Parabéns a você” exigia uma certa concentração. E nem sempre eu acertava. Bem que tentava, mas volta e meia eu era a batida dissonante naquele mar de bem concatenados. Pra mim, desde a infância, o ritmo foi algo confuso, um mistério insondável.
Na adolescência, me aventurei a aprender a tocar violão. Eu achava o máximo todo aquele pessoal tão familiarizado com os acordes e as pestanas. Não demorou muito até eu perceber que as cordas não eram para mim. Eu até aprendia com certa desenvoltura a posição dos dedos, mas a batida era o problema. A consonância do movimento da mão com o timbre que eu escutava da música que tentava tocar era de uma impossibilidade mística. O misto de cansaço e piedade que eu via nos olhos do professor atestavam o inevitável fato de que eu não tinha jeito para aquilo. Tudo ficou ainda mais claro quando, só depois de muito tempo, ele percebeu que eu era canhoto e me perguntou se eu não preferia inverter a cordas. Eu nunca tinha pensado nisso, o que entendi como sendo a sentença cabal de que os meus sonhos de rockstar não seriam realizados nesta encarnação.
Essa dificuldade com os ritmos e compassos também se apresentou de forma imaterial na minha vida. Por exemplo, eu ainda hoje tenho uma relação complicada com o tempo: sempre chego cedo nos compromissos. E olha que eu me esforço. Por vezes, aguardo mais uns dez ou até quinze minutos para sair de casa. Entretanto, inevitavelmente, lá estou eu chegando antes do horário combinado. Entendo que para alguns isso seria uma benção, mas esta quase metafísica distensão temporal é pra mim uma maldição: fico com a sensação de desperdício.
Talvez tenha sido justamente este desencontro entre o meu tempo e tempo do mundo que me fez trabalhar tanto nos meus vinte e trinta anos. Posso contar nos dedos de uma mão – a confiável canhota, não a desengonçada destra – quantas vezes me atrasei para um atendimento.
Essa confiança na pontualidade fez com que eu trabalhasse sempre com intervalos muito curtos, uma vez que eu sabia que não me atrasaria. Com isso, entretanto, me vi mais e mais assoberbado, tendo em vista que este mesmo rigor cronológico também me permitia aceitar mais demandas.
Ou seja: eu estava novamente fora do ritmo, em desencontro com a cadência que eu só depois percebi que era me era mais confortável.
Quando fiz quarenta anos, decidi que era o momento de me haver de frente com esse descompasso. Fiz uma leitura de como andava o meu ritmo, em sentido amplo, especialmente com relação ao trabalho. E me assustei com o quanto eu estava batendo palmas mais rápido do que eu gostaria, com o quanto a mão direita se apressava nas cordas.
Com isso, nos últimos tempos, fiz mudanças drásticas no consultório. Se antes eu atendia um paciente atrás do outro, agora raramente meus analisantes se cruzam na sala de espera. Faço questão de ter um bom intervalo entre uma escuta e outra. Quase tenho dificuldade em chamar de sala de espera o aposento anexo ao consultório: dificilmente alguém se demora por ali. A não ser aqueles que, como eu, sempre chegam muito antes.
Tomo um café, respondo mensagens, avanço alguma leitura ou escrevo um pouco. Tudo isso eram coisas que eu fazia com o custo de não parar em momento algum, ou nem conseguia fazer. Hoje, não mais.
Acredito que a psicanálise é um ritual, tanto para o paciente quanto para o analista. E, como todo ritual, clinicar exige um tempo em desacordo com a lógica neoliberal de produtividade máxima o tempo todo. No capitalismo tardio, estamos todos batendo palmas, só não sabemos muito bem quem está de aniversário. Tentamos dar conta de mais batidas por minutos do que a nossa mão alcança.
O ritual, como resistência a essa lógica, é o exercício do intervalo.
Com essa mudança de ritmo no consultório, tive também que ser mais criterioso com relação a algumas combinações. Desta forma, tenho a certeza de que cada paciente vai ser atendido da melhor forma possível, por um analista descansado, disposto e disponível. Um analista que passou talvez a não saber bater palmas ou tocar violão, mas que pelo menos aposta em um ritmo mais lento.
Neste sentido, fico preocupado quando o imperativo da “agenda cheia” se coloca, especialmente para colegas tão ou mais experientes do que eu.
Entendo que, no começo da clínica, todos queremos ter pacientes, e estamos empolgados para trabalharmos mais e mais. Mas me pergunto o quanto, depois de um tempo, seguir nessa lógica não acaba contrariando a premissa de que a psicanálise opera na contra-corrente do discurso do capital. Nosso trabalho é artesanal, caso a caso, e não deveria ser tão ditado pela uniformização dos processos maquínicos.
Falo da clínica psicanalítica, mas creio que estas considerações valem para muitas outras áreas.
Em tempos em que maratonamos seriados, filmes e podcasts, seria bom não maratornamos também pacientes.
Aprender, ou pelo menos se esforçar em aprender, a bater palmas e tocar violão são atos éticos.
(*) Luciano Mattuella é psicanalista, membro da APPOA.
***
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.